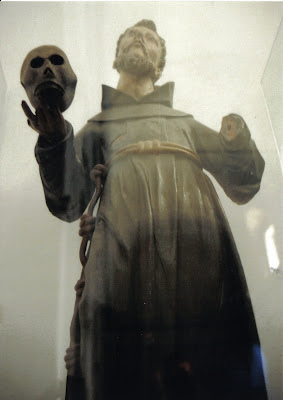O conceito de performance ligado à arte é bem escorregadio e, por outro lado, existe uma visão mais senso comum do termo bem limitadora. O que realmente é performance? Existe um conceito mais fechado do termo?
A performance é uma prática artística que se desenvolve como gênero ao longo da segunda metade do século XX, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial e suas catástrofes correlatas. Digo “se desenvolve como gênero” pois muitos historiadores defendem a idéia de que as origens das práticas performativas são mais remotas. Alguns propõe que a performance tem suas raízes fincadas nos movimentos de vanguarda do início do século (dadaísmo, surrealismo etc.). Outros sugerem que a performance é tão antiga quanto o ritual. É importante enfatizar que a noção de performance como a conhecemos hoje aparece por volta dos anos 1960, quando inúmeras manifestações artísticas - que não podiam ser classificadas como teatro, dança, pintura, escultura ou qualquer outro gênero previamente conhecido - começam a acontecer simultaneamente pelo mundo afora. A performance surge no cenário pós-guerra como uma denúncia, uma resposta e uma proposta. Gosto de colocar a performance em perspectiva histórica e relativizar sua origem ao invés de buscar defini-la ou enquadrá-la teoricamente. A estratégia da performance é resistir a definições. Ela trata justamente de desnortear classificações, de desconstruir modos tradicionais de produção e recepção artística. É um expoente da arte contemporânea porque suspende certezas sobre o que seja “obra de arte”, “espectador” e “artista” ao lançar perguntas desconcertantemente fundamentais como: o que é arte? o que move a arte? o quê a arte move? quê arte move? Enquanto gênero, a performance não fixa formas espaciais ou temporais, não utiliza mídias ou materiais específicos, nem estabelece modos de recepção ou critérios de documentação. Alguns performers trabalham em espaços públicos, outros em galerias ou demais espaços destinados à fruição artística, outros em seus próprios estúdios ou casas, enquanto outros preferem espaços rurais. O mesmo sobre a temporalidade da performance: há peças com duração de um ano enquanto outras duram horas, minutos ou mesmo segundos. Quanto às mídias e materiais utilizados pelos artistas, a diversidade também é grande. Quanto à recepção da performance, também impera a indeterminação: alguns artistas performam para espectadores (que tornam-se cúmplices ou testemunhas de seus feitos), outros com os espectadores (que tornam-se assistentes e até mesmo co-realizadores do evento), e outros sem espectadores (e optam por documentar ou não as ações realizadas). Há também aqueles artistas que criam proposições para serem realizadas não por eles, mas pelos próprios “espectadores”. Ou ainda, numa versão radicalmente diferente, aqueles que contratam e pagam pessoas para performar suas propostas. Trocando em miúdos: tentar definir a performance não é apenas contraditório ou redutor, é mesmo impossível. Definir performance é um falso problema. Porém, claro, há fatores comuns entre peças de performance. Sobretudo a ênfase no corpo como tema e matéria. Me restrinjo a destacar algumas tendências gerais: o desmonte de mecânicas clássicas do espetáculo, a desconstrução da representação, o desinteresse pela ficção, a investigação dos limites entre arte e não-arte, a investigação das capacidades psicofísicas do performer, a criação de dramaturgias pessoais e/ou auto-biográficas, a ênfase nas políticas de identidade e em discussões políticas em geral através do corpo e as experimentações em torno das qualidades de presença do espectador.
Qual a relação entre performance e arte, já que performance, de certa forma, está ligada a manifestações distintas de arte? Até que ponto a arte é devedora de uma concepção de performance, e vice-versa?
A hibridação de gêneros é uma das principais características da performance. Aliás, esta possibilidade de fusão ampla, geral e irrestrita de materiais e procedimentos é uma das principais características não apenas da performance mas da produção artística contemporânea. No estudo da teórica de teatro alemã Erika-Fischer-Lichte, intitulado “O Poder Transformador da Performance” (The Transformative Power of Performance), ela propõe que desde o início dos anos 1960, a arte ocidental experimenta o que chama de “performative turn”. Segundo Fischer-Lichte, esta virada performativa inclui todos os gêneros artísticos -cujas fronteiras tornam-se mais fluidas - além de dar origem a performance art propriamente dita. Nas artes visuais, a action painting, a body art, as instalações e as obras de site specific são exemplos deste caráter performativo. Na música, experimentações em torno de temas como “música cênica”, “música visual”, “teatro instrumental” também são exemplos. No teatro, o interesse crescente pela desconstrução da narrativa e da ficção em favor da inclusão do espectador numa cena cada vez mais porosa é outro traço performativo marcante. De modo geral o “performative turn” aponta para a seguinte tendência: o crescente desinteresse pela noção de obra de arte enquanto resultado final do trabalho do artista a ser absorvido e interpretado pelo espectador e, em contrapartida, a crescente valorização do evento que inclui o espectador como elemento constitutivo.
Sua pesquisa parte do princípio de uma desestabilização na relação performer-espectador, principalmente de uma dicotomia bastante difundida da idéia de um performer ativo e um espectador passivo. De que modo seus trabalhos e pesquisas se propõem a buscar uma colaboração entre esses dois agentes?
Para te responder vou comentar resumidamente uma performance - “Ações Cariocas” - que realizei faz pouco tempo no Largo da Carioca [uma das praças mais movimentadas do Centro do Rio de Janeiro]. Para realizar a primeira “Ação Carioca”, levo para o Largo duas cadeiras da cozinha da minha casa, um bloco formato A2 e uma caneta pilot. Quando chego no local escolhido do Largo, tiro o sapato, coloco uma cadeira diante da outra, escrevo no bloco “converso sobre qualquer assunto”, levanto o cartaz e espero. No primeiro dia não fazia idéia do que iria acontecer. Minha motivação era muito clara: dialogar com meus concidadãos, tentar recuperar meu interesse e amor pela cidade onde cresci e que, por conta da corrupção política e da truculência criminosa, tornou-se uma violenta cultura do medo. Para reagir contra minha prostração e frustração resolvi ir para a rua, conversar com quem quisesse conversar comigo, criar uma performance em que a receptividade fosse a chave dramatúrgica. Fato é que, logo depois de erguer o cartaz, quase imediatamente depois, uma pessoa sentou-se comigo. E assim sucessivamente. Várias pessoas, todo tipo de gente, tantas conversas e assuntos que precisaria de páginas e páginas para descrever. No final de cada dia - permanecia cerca de quatro horas na rua e por vezes mais de uma hora com cada pessoa - estava eufórica, totalmente eletrizada, não exatamente pela ocupação de um espaço, mas pela abertura de uma dimensão, uma dimensão performativa; energizada pelo reencontro com a cidade e com a minha própria cidadania; energizada por podermos criar juntos, através do diálogo, e na medida de nossas micro-percepções e micro-políticas, novas possibilidades para nós, a arte e a cidade.
Falando sobre o conteúdo do módulo ´Dança e Performance´, existe uma aproximação maior entre performance e dança do que em relação a outras manifestações artísticas? Como o conceito de performance se insere no panorama da dança contemporânea?
Existe uma aproximação maior apenas na medida em que a dança sempre valorizou o corpo. O que não quer dizer que a dança tenha sempre valorizado um corpo que pensa ou um pensamento sobre criação de corpo e de mundo. Aqui lembro do teórico da dança André Lepecki, de seu trabalho voltado para o desenvolvimento de uma “dança-que-se-pensa”, uma dança capaz de reconhecer e rearticular as forças sociais, políticas e ideológicas que a condicionam. Desde os anos 1960, dançarinos e coreógrafos interessados em repensar as possibilidades da dança vêm se perguntando o quê os move, e não simplesmente como mover-se. Foi numa entrevista com Pina Bausch [bailarina e coreógrafa recém falecida] que li esta articulação esclarecedora. Muitos dos ensaios desde a criação da companhia em Wuppertal nos anos 1970, desenvolviam-se em torno de perguntas que ela fazia aos dançarinos que, para respondê-las, lançavam mãos de todos os seus recursos expressivos (se necessário inclusive a voz e a palavra). Bausch opta por trabalhar com dançarinos mais velhos, opinativos, corpos marcados, etnias diversas, agentes muito diferentes da etérea bailarina clássica. Corpos que, sob a direção de Bausch, absorveram e transformaram as lições de ballet para criar o híbrido “dança-teatro”, movimento que abriu caminho para as atuais pesquisas da dança contemporânea. Seja de maneira consciente ou não, a dança contemporânea é fortemente inspirada pela performance. A dança contemporânea propõe uma revisão radical da definição tradicional de dança - “mover-se ritmicamente acompanhando uma música e, em geral, seguindo uma seqüência de passos”. Em muita dança contemporânea não se encontrará passos, nem música e, talvez, sequer movimento (se compreendido exclusivamente como deslocamento no espaço). Em contrapartida, a materialidade dos corpos, o desvendamento das convenções cênicas, as éticas relacionais e as políticas de identidade serão temas possivelmente evocados através de pesquisas que podem envolver desde lingüística, novas tecnologias e arquitetura até física, biologia e filosofia. Como a performance sugere, não interessa neste momento definir o que é a dança contemporânea, mas perguntar em cada aqui e a cada agora, o que queremos que dança seja. Cada espetáculo será pois uma resposta momentânea para esta questão recorrente.
FONTE:
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=652907